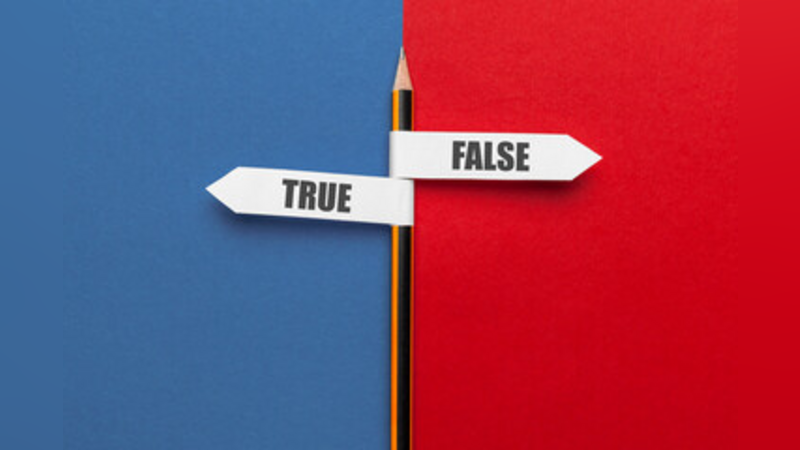Há pouco dias, entrevistei a jornalista Cristina Tardáguila durante a produção de um documentário em áudio para o Vós sobre desinformação. Cristina é especialista no assunto. Ela é diretora adjunta da International Fact-Checking Network (em tradução livre, Rede Internacional de Verificação de Fatos), fundadora da Agência Lupa e autora dos livros “A Arte do Descaso” e ” Você foi Enganado”. Ou seja, ela sabia do que estava falando quando me corrigiu durante a conversa.
Depois de eu fazer uma pergunta sobre Fake News, ela encerrou a resposta com um puxão de orelha: “Eu queria te chamar atenção, Geórgia. Eu faço uma pregação que pode ser até no deserto, mas continuarei fazendo.” Eu sabia o que era. Sabia que tinha pisado bola. “Não devo usar o termo Fake News?”, perguntei. “Exato, já me ouviu falando isso, né?”.
Eu não só já tinha ouvido como sou entusiasta dessa pregação. Mas justifiquei dizendo que me sentia derrotada, que falar em Fake News era uma maneira mais fácil de se comunicar com as pessoas que poderiam ter dificuldade de associar o problema à palavra desinformação, por exemplo. Mas ela foi irredutível. “Eu te entendo, mas a gente precisa lutar contra isso. Se é Fake não pode ser News”, explicou. E ela está certa. Se é falso, não pode ser notícia.
Parece apenas uma questão de semântica, mas é muito mais que isso. Graças a uma narrativa cujo coro foi engrossado por políticos que tem interesse no controle da informação, a expressão Fake News virou sinônimo de erro da imprensa quando, na realidade, é um problema muito maior. Uma pesquisa da organização First Draft mostra que há, ao menos, sete tipos de desinformação: 1. Sátira ou paródia, em que não há intenção de causar dano mas tem potencial para enganar; 2. Conteúdo enganoso, em que há um mau uso da informação por meio de um enquadramento que isole um indivíduo ou assunto; 3. Conteúdo impostor, em que fontes genuínas são imitadas ou falsificadas; 4. Conteúdo fabricado, quando o conteúdo é 100% falso, criado especificamente com o propósito de enganar e causar dano; 5. Conexão falsa, que ocorre quando o título, os atributos visuais ou as legendas não condizem com conteúdo; 6. Contexto falso, em que o conteúdo, apesar de verdadeiro, é compartilhado com contexto falso; e 7. Conteúdo manipulado, que acontece quando a informação ou imagem genuína é manipulada com o objetivo de enganar.
Alguém pode estar se perguntando se faz diferença olhar para cada tipo de desinformação de forma isolada. E eu respondo que faz. Porque cada tipo gera um problema específico e, consequente, uma solução particular. Ou seja, a solução que nós, eventualmente, encontrarmos para combater o problema do conteúdo fabricado será diferente da resposta ao contexto falso.
Alguém ainda pode estar se perguntando se faz diferença chamar de Fake News ou desinformação. E eu respondo que faz. Porque precisamos deixar clara a distinção entre erros – que acontecem – e a produção, deliberada ou não, de conteúdo falso. Segundo Claire Wardle, nós, jornalistas, temos um papel crucial nesse “ecossistema”, porque se há conteúdo falso sendo compartilhado de forma displicente pelo público em geral nas redes sociais, também há conteúdo falso sendo amplificado por jornalistas que, verdade seja dita, estão sob imensa pressão.
Isso significa que reconhecer nossos erros talvez seja o primeiro passo para restabelecer – se é que é possível – a quebra do contrato social que existia entre os veículos de comunicação e suas respectivas audiências. Enquanto não levarmos a sério e tratarmos dos nossos equívocos com a devida gravidade, o povo vai continuar confundido erro com desinformação e acreditando na existência das Fake News.
Como disse a jornalista Cristina Tardáguila durante nossa conversa, uma frase com informação falsa não pode virar título. Uma imagem manipulada de uma nota de 200 reais estampando o vira-lata caramelo não pode estar na capa de um jornal. Se é falso, não pode ser notícia. Se é Fake, não pode ser News.
Fonte: Coletiva.net